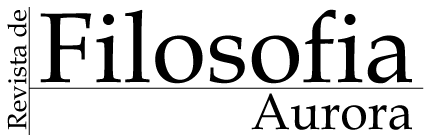Resumo
Neste ensaio argumentarei em defesa da ideia de que a educação moral representa um elemento de suma importância para aplicação da ética kantiana e que, apesar de o filósofo não ter elaborado uma teoria sistemática sobre o tema, ele é formulado de modo explícito em algumas obras e pressuposto de modo tácito em outras. Para isso, recorro a três aspectos que me parecem importantes na perspectiva de legitimação do tema: 1) a educação moral como direito humano fundamental; 2) sua tarefa enquanto exercício da faculdade de julgar e como fenômeno social; e 3) o papel do Estado no seu fomento. Estes três aspectos podem não cobrir tudo o que a educação moral significa para Kant, mas sem eles não é possível a sua compreensão.
Palavras-chave:
Ética; Educação Moral; Direito; Sociedade; Estado
Abstract
In this essay I will argue in defense of the idea, that moral education plays an indispensable role for the application of Kantian ethics and that, although the philosopher did not develop a systematic theory on this topic, it is formulated explicitly in some works and tacitly assumed in others. To do this, I turn to three aspects, that seem relevant to me in order to understand an legitimize his conception: 1) moral education as a fundamental human right; 2) its task as an exercise of the faculty of judgment and as a social phenomenon and 3) the role of the State in promoting it. These three aspects may not cover Kant’s account on moral education, but without them his understanding is not possible.
Keywords:
Ethics; Moral Education; Law; Society; State
Introdução
Entre os escritos de ética de Kant, não encontramos um livro intitulado teoria da educação moral, crítica da razão pedagógica ou metafísica da educação. Contudo, não é exagero afirmar que sua filosofia crítica pode ser lida também em chave didático-pedagógica: em última instância (ou como define Kant, em sentido cosmopolita1 1 Na Lógica, Kant distingue um sentido escolástico que, nos termos atuais equivaleria ao acadêmico, de Filosofia, designando-a como “sistema dos conhecimentos racionais a partir de conceitos”, ao passo que em um sentido mundano, para o qual ele também usa a expressão latina in sensu cosmico, referindo-se a ele posteriormente também como sentido cosmopolita, a Filosofia é “a ciência da relação de todo o conhecimento e de todo uso da razão com o fim último da razão humana” ou, ainda, “é a ideia de uma sabedoria perfeita que nos mostra os fins últimos da razão humana”, isto é, em um sentido muito mais amplo do que o acadêmico (Ak. IX, 24-25). ), as perguntas que não cessam de nos instigar e pelas quais somos sempre colocados na condição de aprendizes, são sempre as mesmas: “o que podemos conhecer? o que devemos fazer? O que nos é permitido esperar? e o que é o homem?” (Ak. IX, 25). Está muito claro, além disso, que uma concepção de educação moral perpassa o conjunto dos seus escritos de filosofia prática. Dito de outro modo, há um problema já no ponto de partida: não há uma teoria explícita e, muito menos, detalhada, mas ela está esboçada em algumas obras e perceptivelmente pressuposta em outras. Meu propósito neste trabalho é argumentar em torno da relevância desta questão.
A autonomia moral, de acordo com Kant, está na esfera própria mais elementar e intransferível de responsabilidade de cada indivíduo e só pode ser pensada sob o pressuposto da liberdade. Não obstante, um comportamento moralmente qualificável como bom, em um ser que não é nem bom nem mau por natureza, é algo que só pode ser adquirido e construído através da aprendizagem, isto é, pressupõe um processo gradual de conhecimento de si mesmo e de desenvolvimento das próprias capacidades. Condição essencial para que este processo se realize é a interação social, inicialmente com o círculo das pessoas mais próximas (que denominamos de família) e, posteriormente, em um contexto maior que envolve a sociedade em que estamos inseridos. A educação moral, se olharmos com generosidade, perpassa todas as etapas e formas de relação que estabelecemos. Com isso, desde o princípio estou pressupondo que a moralidade - embora a investigação teórico-filosófica sobre o seu princípio possa ser metodologicamente separada - é sempre também um fenômeno social.
Desafortunadamente, a ética kantiana privilegiou uma investigação e discussão sistemática sobre o fundamento ou o princípio supremo da moral e deixou uma certa lacuna a ser preenchida no que se refere ao tema da formação, como instância de aplicação daquele princípio, isto é, conferiu pouca importância ao aspecto da realização da moral. (Assumo aqui os termos educação e formação moral como sinônimos).
Neste sentido, compartilho da observação feita pela filósofa Barbara Herman de que “a teoria moral kantiana não parece providenciar um ambiente confortável para pensar sobre a educação moral” (2007, p. 130). No entanto, cabe lembrar que esta não é uma particularidade da ética de Kant. Otfried Höffe também observou que o tema da educação moral é “deficitário”, isto é, teve pouca ou menor atenção nas obras de “vários filósofos da moral” (2007, p. 347). Neste sentido, a obra de Kant não é uma exceção.
Apesar das dificuldades em se encontrar uma teoria da educação moral, concebida e examinada nos moldes rigorosos da filosofia crítica, não é correto afirmar que Kant simplesmente ignorou este tema, na medida em que além de filósofo, foi um professor e entusiasta das iniciativas educacionais do seu tempo, como atestam os ensaios sobre o Instituto Filantrópico de Dessau (1776 - 1777), além do fato de ter ministrado preleções de Pedagogia na Universidade de Königsberg2 2 Cf. Aufsätze, das Philantropin betreffend, Ak. II, 445. . O material que restou de tais preleções foi entregue a Friedrich Theodor Rink, que editou e publicou o texto (problemático) Sobre a Pedagogia (1803). Embora este pequeno escrito contenha ideias de Kant que efetivamente podem ser encontradas em outros textos que são seus de fato, ele não pode ser tomado como obra autêntica do filósofo3 3 Escrevi especificamente sobre este tema no livro Moralität und Erziehung bei Immanuel Kant (2007), livro que resultou da minha tese de doutorado e no texto O problema da autenticidade das preleções de Pedagogia de Kant. In: Luiz Carlos Bombassaro; Claudio A. Dalbosco; Nadja Hermann. (Org.). Percursos Hermenêuticos e Políticos: Homenagem a Hans-Georg Flickinger. 1ed.PassoFundo PortoAlegre Caxias: UPF; EDIPUCRS; UCS, 2014, v. 1, p. 190-207. .
Não tenho a intenção de reconstruir aqui ou submeter à análise a totalidade das passagens em que Kant se manifestou sobre a educação moral ao longo de sua obra. Em lugar disso, pretendo trazer tão somente três aspectos que contribuem para a compreensão da educação moral como elemento prático indispensável no contexto da ética kantiana. A moralidade, concebida e justificada por Kant em seu princípio supremo, carrega em última instância também uma pretensão de se realizar no mundo, embora o fato de que isso não aconteça em sua plenitude, como diz Kant, em nada invalida a validade daquele princípio. Considero, portanto que por meio deste “começo” podemos obter pelo menos uma visão preliminar do tema.
O tema pode ser abordado desde várias obras. Para mim, um dos principais textos que serve de ponto de partida é colocado por Kant na Doutrina do Método, parte final da Crítica da razão Prática. A educação ou formação moral está essencialmente relacionada com o problema de como tornar também subjetivas, leis morais objetivas. Esta questão, posta pelo segundo texto mais importante da filosofia moral kantiana sintetiza o problema na sua totalidade. Nas palavras do filósofo,
[...] entender-se-á por esta doutrina do método o modo como se pode pr0porcionar às leis da razão prática pura acesso ao ânimo humano, influência sobre as máximas do mesmo, isto é, como se pode fazer a razão objetivamente prática também subjetivamente prática (Ak. V, 269).
Os três aspectos que pretendo abordar nos permitem compreender o caráter fundamentalmente jurídico-legal, bem como social e político da educação moral. Procederei, portanto, da seguinte forma: 1) primeiro, demonstrando o direito e a obrigação moral e jurídica dos pais em relação aos filhos, argumentando que isso evidencia um direito humano fundamental ao cuidado e à educação; 2) reconstruindo em linhas gerais a tarefa fundamental da educação moral, entendida como o cultivo da faculdade de julgar no educando, algo que evidencia que ela só pode ser pensada em perspectiva social e comunitária e, portanto, no interior das tensões proporcionadas pela sociabilidade-insociável humana; e 3) por meio da consideração desta tarefa humana primordial como atribuição do Estado, isto é, em sua dimensão política.
Analisar a educação moral no âmbito da ética kantiana, tanto como direito humano fundamental e enquanto processo de desenvolvimento individual e social da capacidade de julgar e demais competências relacionadas, bem como avaliar o papel do Estado como promotor da mesma, são aspectos que remetem, portanto, para a antropologia, filosofia política e filosofia da história kantiana. Ao lado de textos que têm um conteúdo formativo e pedagógico mais explícito, como é o caso da Doutrina da Virtude, estes escritos permitem uma leitura da ética kantiana como portadora de um ideal de formação humana e para a cidadania.
Educação como direito humano fundamental
Embora Kant tenha sido um leitor entusiasta de Rousseau, especialmente do Emílio, ele não escreveu nenhuma obra que se aproximasse a ela em termos de conteúdo, como já mencionei no início do texto4 4 Talvez o lugar onde mais apareça de forma nítida a influência desta leitura de Rousseau seja a primeira parte das lições de Pedagogia, isto é, naqueles aspectos relacionados à educação física ou natural, em que ele discorre sobre os primeiros cuidados com a criança, como alimentação, higiene e formação de hábitos, entre outros assuntos. . Este fato, todavia, não diminui a compreensão de Kant a respeito da necessidade da educação moral como uma obrigação jurídico-legal dos pais ou progenitores.
Neste sentido, a primeira consideração que pode ser feita aqui é a de que Kant pensou a educação como um direito humano fundamental, ainda que não tenha usado exatamente esta expressão. O contexto no qual esta exigência se coloca é no âmbito da relação pais e filhos, precisamente nos parágrafos 28 e 29 da sua Doutrina do Direito.
De acordo com Kant, o fato de se gerar ou procriar, a partir do matrimônio, uma outra pessoa traz consigo implicações morais e jurídicas e, por meio disso, se estabelece entre as partes uma relação de direitos e deveres recíprocos. O primeiro dever dos pais está relacionado à preservação daquele ser que foi gerado.
[...] da procriação nesta comunidade decorre o dever de conservação e de cuidado dos seus frutos; quer dizer, os filhos como pessoas têm, por isso, concomitantemente um direito originário e inato (não adquirido por herança) à manutenção pelos pais até que sejam capazes de se manter por si próprios; e isto directamente por força da lei (lege), quer dizer, sem que para isso seja requerido um acto jurídico especial (Ak. VI, 280).
A primeira pergunta que pode ser colocada aqui é: em que propriedade ou qualidade se fundamenta esta obrigação dos pais para com o a criança? A resposta é: ela reside precisamente no fato de que o ser gerado é uma pessoa. Uma pessoa recém-nascida é incapaz de manter a si mesma e, por isso mesmo, está juridicamente protegida pelo direito inato que possui (à sua liberdade), e por ele assegurada a que os pais lhe cuidem, alimentem, auxiliem e eduquem. Notadamente, este é um direito humano fundamental tanto na época de Kant, quanto na atualidade. Deste seu direito inato resultam, portanto, deveres para os pais em relação a ela. Em outra passagem da Rechtslehre, Kant expressa novamente a característica indissolúvel deste vínculo que se forma desde o princípio:
[...] o homem não pode gerar uma criança com a mulher, como sua obra recíproca, sem que ambas as partes ganhem em relação a ela e entre si a obrigação de sustentá-la (Ak. VI, 360).
Outro elemento que Kant destaca no ato de geração é o fato de que ele é um ato arbitrário por parte dos pais, por meio do qual eles trazem uma pessoa ao mundo e, na verdade,
sem o seu consentimento [...], facto pelo qual recai então sobre os progenitores a obrigação de, na medida das suas forças, conseguir que a criança esteja satisfeita com essa sua condição (Ak. VI, 281).
Por se ser uma pessoa, o filho gerado não é um objeto ou coisa que os pais podem descartar, destruir ou deixar entregue a si mesmo, a qualquer momento ou sob qualquer pretexto, pois
com ele não foi apenas um ser do mundo que para cá trouxeram, mas um cidadão do mundo, condição essa que, atendendo também a conceitos jurídicos, não lhes pode, pois, ser indiferente (Ak. VI, 281).
A partir desta relação surgem também direitos para os pais, relacionados à condução da vida e à educação dos filhos. Na medida em que crianças são efetivamente menores, isto é, ainda incapazes de fazer uso autônomo de suas faculdades e, portanto, do próprio entendimento, os pais (adultos emancipados e ligados ao filho gerado por aquele vínculo indissolúvel mencionado antes) têm a prerrogativa de “formá-lo tanto pragmaticamente, para que possa no futuro se sustentar a si mesmo e seguir seu caminho, quanto moralmente”. (Ak VI, 281) A omissão ou o abandono, neste sentido, torna os pais jurídica e moralmente condenáveis.
Em se tratando da educação, portanto, os pais têm “um dever natural absoluto” (Ak. VI, 330), mas ao mesmo tempo igualmente “[...] um direito de obrigá-la a todas as realizações e a toda obediência às suas ordens que não sejam contrárias a uma liberdade legal possível” (Ak. VI, 360) O dever de obediência decorre justamente de sua menoridade e de sua condição de dependência em relação aos pais. Esta responsabilidade cessa com a maioridade ou emancipação e, “após ter sido completada a educação”, os pais podem “apenas contar com a obrigação dos filhos (em relação aos pais) como simples dever de virtude, a saber, como gratidão” (Ak. VI, 281).
Desta personalidade dos filhos segue-se ainda que o direito dos pais nunca é um mero direito real, portanto nunca alienável (jus personalissimum), mas também não é um direito meramente pessoal, e sim um direito pessoal de modo real, pois os filhos nunca podem ser considerados propriedade dos pais, ainda que pertençam ao meu e teu deles (porque os pais têm a posse deles, como as coisas, e eles podem ser devolvidos, caso acabem com qualquer outro, mesmo contra a sua vontade) (Ak. VI, 282).
Nessas passagens da Doutrina do Direito, Kant não deixa dúvidas quanto à responsabilidade moral e jurídica dos pais no que se refere aos direitos daquele que geraram. Fica igualmente caracterizada a indispensabilidade e, portanto, o valor da educação moral, ao lado dos cuidados e do provimento. Este direito fundamental, como já dito, se funda na condição de pessoa do filho e impõe deveres aos pais, como também lhe confere direitos relacionados ao modo como estes conduzirão o processo.
Por mais simples que pareça, o direito nos proporciona algo importante para a legitimação da questão, ainda que com isso não tenhamos argumentos suficientes para compreender o papel e a importância da educação moral no pensamento do filósofo. Neste sentido, uma segunda incursão, a ser feita no próximo item, pode nos ajudar a ampliar a noção de educação moral: a educação moral passa também pelo exercício da faculdade de julgar. E isso é algo que não depende apenas dos esforços dos pais, embora eles tenham um papel primordial neste processo.
A dimensão social da moral: o exercício a faculdade de julgar
A compreensão tanto da importância, quanto do papel da educação moral na ética de Kant pode ser verificada desde sua obra crítica. Particularmente esta questão é colocada, ao menos de modo preliminar, no final da Crítica da razão Prática (1788). Como já referido, na Doutrina do Método, a pergunta que resume o problema para Kant é: como tornar também subjetivas leis morais objetivas? Se Kant não tivesse qualquer interesse em realizar ou aplicar a moral no campo da experiência, jamais teria dedicado tempo e esforço para examinar esta pergunta.
Dito de outro modo, interesse de Kant aí está voltado ao “como” se pode proporcionar à esta lei moral objetiva (que o ser se dá a si mesmo enquanto mero ser inteligível), “acesso” ao ânimo do ser racional-sensível e, com isso, permitir com que ela exerça “influência” sobre as “máximas”, isto é, sobre os princípios subjetivos que orientam normativamente suas escolhas e decisões.
Está claro para Kant que a lei moral, por si só, tem de ser o elemento suficientemente motivante da ação. Contudo, em um ser que não é somente inteligível, e sim, ao mesmo tempo sensível e, portanto, afetado por inclinações, desejos e impulsos, essa motivação não é nem evidente, nem espontânea e nem tampouco algo que acontece naturalmente. Aliás, a única coisa que o ser humano faz naturalmente é buscar a satisfação de suas necessidades que, na sua soma, lhe proporcionam algum tipo de prazer ou conveniência, soma essa à qual chamamos de felicidade, conforme a definição do filósofo.
Precisamente no intuito de demonstrar a inconsistência e a impossibilidade de se associar a vida moral com a busca da felicidade é que Kant procede a uma decomposição e análise de conceitos na primeira e segunda seções da Fundamentação da Metafísica dos Costumes (1785). Este poderia bem ser um ponto de partida para se proceder no caso da educação moral com os educandos, quando se considera que entre suas tarefas primordiais está o desenvolvimento da capacidade de julgar em seres racionais-sensíveis que, todavia, ainda não estão em condições de fazer uso pleno e autônomo de suas faculdades. Auxiliá-los na decomposição e análise da linguagem moral, isto é, a discernir o uso e o significado dos conceitos que empregamos já desde sempre é a principal tarefa da educação moral.
Kant assume, no início da obra Fundamentação, a tese de que há um conhecimento moral da razão vulgar, isto é, de modo geral todos nós carregamos em certa medida uma noção mais ou menos clara sobre o que é certo e errado em termos morais. O que é preciso é que este conhecimento moral seja examinado e aprimorado pelo conhecimento filosófico acerca daqueles conceitos. Não é à toa que ele assume implicitamente esta ideia, quando considera, na Doutrina do Método da Crítica da razão Prática, que o educando já traz consigo um interesse e um certa capacidade de julgar. Precisamente pelo fato de ela ser limitada é que precisa ser estimulada e desenvolvida por meio de certas formas de ensino.
Os educandos, especialmente na infância, embora sejam pessoas, seres racionais-sensíveis, não têm condições de fazer um uso autônomo das suas capacidades e, por isso mesmo, são ainda incapazes de julgar, tomar decisões, agir por conta própria. Estas são capacidades imprescindíveis para a agência e que, ao mesmo tempo, precisam ser exercitadas e amadurecidas. Considerações semelhantes são feitas por Kant também na Doutrina do Método da Ética, final da Doutrina da Virtude (1797), quando apresenta as linhas gerais de uma didática ética e de uma ascese ética, cujo conteúdo não irei analisar aqui.
Com efeito, não se pode conceber a agência moral, sem supor um sujeito autônomo, capaz de julgar e deliberar, de escolher entre os fins possíveis de sua ação, tanto aqueles que ele pode considerar bons como meios para outra coisa, como aqueles que são bons em si mesmos, isto é, moralmente bons. Este mesmo sujeito precisa, portanto, de um aprendizado específico ou seja de uma educação moral. Essas capacidades só podem ser desenvolvidas de modo adequado, embora talvez nunca na sua plenitude e perfeição, se incluirmos no processo a discussão sobre certos conteúdos morais. Mas como podemos acessar o conhecimento moral?
Kant entende que um dos modos pelos quais se pode estimular a capacidade de julgar dos educandos e, de modo geral, também de adultos, é o diálogo e o exame sobre o valor moral das ações.
[...] entre todo o arrazoar não se encontra um que suscite mais a adesão das pessoas - que do contrário logo se aborrecem com toda a argumentação sutil - e introduza uma certa vivacidade na sociedade do que o arrazoar sobre o valor moral desta ou daquela ação, que deve constituir o caráter de qualquer pessoa (Ak. V, 273).
Ora, a discussão sobre o valor moral das ações implica justamente o exame de certos conteúdos, daquilo que chamamos de intenções dos agentes, que são consequências ou efeitos bons ou ruins de ações, convicções etc. Neste contexto, portanto, se põe em prática o exame da linguagem da moral, processo pelo qual não apenas se avalia as ações de outras pessoas, mas que também se torna um processo pragmático de aprendizagem e, por fim, de autoconhecimento.
Kant pergunta-se, olhando para o ensino tradicional de sua época, por que os “educadores da juventude” não colocaram isso em prática e acabaram por resumir a tarefa da educação moral apenas ao aprendizado por meio de um catecismo. Ora, com um catecismo pode-se até favorecer o exercício da memória, mas não se trata de um livre exame do conteúdo, ou seja, aprende-se de modo dogmático. Ele sugere ali que, para ir além do mero ensino com base no catecismo, poderiam ser tomadas “biografias de épocas antigas e modernas” com o objetivo de estabelecer comparações entre ações semelhantes em circunstâncias ou contextos diferentes. Para ele, através deste tipo de recurso, os professores poderiam colocar “em atividade o ajuizamento de seus educandos para observar o maior ou menor conteúdo moral” daqueles exemplos e isso seria um fator de “progresso de sua faculdade de julgar” (Ak. V, 275).
A partir desta sugestão didática, contudo, não se deve inferir que Kant era favorável ao uso de exemplos para ensinar conteúdos morais. Pelo contrário, a posição dele é manifestamente crítica ao uso de exemplos na educação moral. O exemplos podem servir para o mero exercício da faculdade de julgar, por estimularem o engajamento no debate e na análise, mas jamais para servirem como base para ação. Para o filósofo,
propor para as crianças, a título de modelo, ações como nobres, magnânimas e meritórias, na crença de por uma infusão de entusiasmo conquistá-las para as mesmas, é completamente contraproducente (Ak. V, 280).
Os exemplos, neste sentido, em lugar de provocar a capacidade de julgamento, podem produzir apenas imitação ou um tipo de obediência cega, desprovida de consciência moral, de julgamento e deliberação próprios do agente. Com isso, eles não apenas impedem o autoexame e autoconhecimento moral do educando e do agente, mas produzem exatamente tudo aquilo que se deveria evitar na conduta moral: a heteronomia moral. A este respeito, Kant argumenta com clareza na Fundamentação:
a imitação não tem lugar de modo algum no domínio moral e os exemplos servem apenas de incentivo, isto é, põem fora de dúvida a factibilidade daquilo que a lei manda [...] mas nunca podem autorizar a pôr de lado o seu verdadeiro original que está na razão e a regular-se por exemplos (Ak. IV, 409).
Uma vez tendo clara a função limitada que o exemplo pode ter na educação moral, cabe notar que o cultivo da faculdade de julgar também precisa ser entendido de forma adequada. De acordo com Kant, não se pode ensinar propriamente a faculdade do juízo, como se ela fosse algo ou algum tipo de conteúdo específico que pudesse ser transmitido.
Na Antropologia de um ponto de vista pragmático (1798), quando Kant caracteriza e diferencia as faculdades da sensibilidade, entendimento, juízo e razão (parágrafos 40 a 44), ele lembra que o nosso entendimento natural, também chamado de bom senso, pode ser instruído e “ainda enriquecido de muitos conceitos e dotado de regras”. No entanto, a faculdade
de discernir se algo é um caso da regra ou não, o juízo (iudicium), não pode ser ensinada mas só exercitada; daí seu crescimento se chamar maturidade, entendimento que só vem com os anos (Ak. VII, 199).
O desenvolvimento desta capacidade e de todas as outras, necessárias para que o educando se torne emancipado, pressupõe mas transcende o ambiente da própria família e da escola. Ele ocorre, também, de forma gradual e se complementa somente no interior da sociedade (na esfera pública). É compreensível, por isso mesmo, que ao lado de disciplina e cultura, como etapas da educação, Kant se refira à civilização como um momento indispensável para a vida em sociedade e que antecede a moralização.
Com efeito, Kant refere-se a este processo, na Antropologia, como sendo a destinação do ser humano.
[Ele] está destinado, por sua razão, a estar numa sociedade com seres humanos, a se cultivar, civilizar e moralizar nela por meio das artes e das ciências [...] a se tornar ativamente digno da humanidade na luta contra os obstáculos que a rudeza de sua natureza coloca para ele (Ak. VII, 325).
Neste sentido, concordo com o argumento de Barbara Herman, quando observa que no plano empírico o desenvolvimento moral do educando passa necessariamente pelas tensões e confrontos no mundo prático, que têm origem na sociabilidade-insociável do ser humano.
Se a autonomia é a capacidade de julgar e ser motivado pelos princípios de um campo deliberativo construído, a sua realização empírica é uma função da educação moral: a provisão social e institucional de valores bem formados e de competências avaliativas. Agentes efetivamente autônomos serão moralmente instruídos; eles têm uma inteligência moral desenvolvida que pode ler e responder a fatos morais, incorporando sua importância avaliativa em um modo de vida compartilhado (HERMAN, 2007, p. 128).5 5 “If autonomy is the capacity to judge and be motivated by the principles of a constructed deliberative field, its empirical realization is a function of moral education: the social and institutional provision of well-formed values and evaluative skills. Effectively autonomous agents will be morally literate; they have a developed moral intelligence that can read and respond to moral facts, incorporating their evaluative import into a shared way of life.”
Com as considerações de Kant da Doutrina do Método da segunda crítica, obtemos insights importantes e que, somados aos aspectos que foram destacados anteriormente, relacionados ao direito dos pais, obtemos uma ampliação da perspectiva sobre do papel da educação moral. O objetivo de Kant na Doutrina do Método era apenas apresentar os “traços fundamentais” do que seria uma educação moral e não propriamente uma teoria sistemática acerca da mesma. Com efeito, ele reconhece, ao final do texto, ter deliberadamente se referido ali “somente às máximas mais gerais da doutrina do método acerca de uma cultura e exercício morais”(Ak. V, 288).
Deste modo, embora tenhamos uma perspectiva acerca da necessidade e da peculiaridade da educação moral, esta tarefa fica ainda carente em certa medida de maior sustentação, na medida em que, desde o início, a consideramos um processo que ocorre na esfera pública.
Com isso, quero referir-me ao terceiro aspecto, que penso ser necessário considerar: a educação moral tem de ser fomentada na esfera pública e esta é uma tarefa que cabe ao Estado. Isso, no entanto, não quer dizer que cabe ao Estado moralizar o cidadão, o que implicaria em uma contradição explícita entre a ética e a política kantiana. Este é o tópico que abordarei na sequência.
O papel do Estado
Na medida em que a educação moral é realizada por seres imperfeitos, não existe um guia ou, nos termos acadêmicos atuais, um manual acabado sobre esta tarefa humana. A este respeito, Kant inclusive manifesta uma certa ironia no escrito da Religião (1793): “como se pode esperar que a partir de uma madeira retorcida [como é o caso ser humano], seja possível talhar algo de reto?” (Ak. VI, 100). Com efeito, “são homens os que devem realizar esta educação, por conseguinte, homens que tiveram igualmente de para tal ser educados” (Ak. VII, 92-93). Nossa tarefa em suma, se assemelha à pena imposta a Sísifo: tarefa que sempre recomeça e nunca termina.
Neste sentido é que a moralização precisa ser pensada, colocando em perspectiva o conjunto inteiro da espécie humana, na medida em que o progresso para o melhor significa, na prática, aperfeiçoamento mediante erros e acertos.
[o] ser humano tem de ser educado para o bem, mas aquele que deve educá-lo é novamente um ser humano que ainda se encontra em meio à rudeza da natureza e deve realizar aquilo de que ele mesmo necessita” (Ak. VII, 325).
Se concordamos que a educação moral, como fenômeno social, só pode acontecer na esfera pública, por meio das instituições públicas, então qual é a participação do Estado nesta tarefa? Ora, Kant também não desenvolveu em sua filosofia do direito uma teoria sobre o dever do Estado de promover a educação dos cidadãos no espaço público. Contudo, esta é uma ideia que está pressuposta em vários momentos nos seus escritos políticos e sobre filosofia da história. Entretanto, como se deve entender uma suposta atribuição ao Estado na tarefa de educar moralmente seus cidadãos? É de suma importância deixar claro desde o princípio que não se trata de o Estado doutrinar moralmente os indivíduos, inculcando neles conteúdos morais.
Neste sentido, estou de acordo com a leitura de Pinzani, quando afirma que “isso de modo algum significa, que o Estado deve cuidar da moralidade do próprio cidadão” (2009, p. 261). Ora, isso equivaleria a admitir que é o Estado, na pessoa do governante, que estabelece por decreto o que é moralmente bom e ruim. A história nos mostra que isso até pode acontecer e efetivamente acontece no caso de uma monarquia absolutista, regimes ditatoriais, bem como também se materializa, na atualidade, em falsos líderes que, não raro, são seguidos por indivíduos que passivamente se deixam conduzir como rebanho. Moralista, aliás, como Kant distinguiu na Fundamentação, pode ser qualquer um que ocupe uma posição privilegiada ou não, como pai, pastor, professor, filósofo ou político. Este acredita carregar todas as respostas para nossos problemas morais. Sabemos o quanto isso é perigoso.
Ao Estado, portanto, regido por uma constituição republicana6 6 No Conflito das Faculdades Kant argumenta que: “A ideia de uma constituição em consonância com o direito natural dos homens, a saber, que os que obedecem à lei devem ao mesmo tempo, na sua união, ser legisladores, está subjacente a todas as formas políticas, e o Estado que, concebido em conformidade com ele, graças a puros conceitos racionais, se chama um ideal platônico (respublica noumenon), não é uma quimera vazia, mas a norma eterna para toda a constituição civil em geral, e afasta toda a guerra. Uma sociedade civil organizada conforme a ela, é a apresentação da mesma segundo leis de liberdade, por meio de um exemplo na experiência (respublica phaenomenon) e só pode ser obtida com muito esforço após múltiplas hostilidades e guerras; mas a sua constituição, uma vez adquirida em grande escala, qualifica-se como a melhor entre todas para manter afastada a guerra, a destruidora de todo o bem; por conseguinte, é dever ingressar nela; mas provisoriamente (porque aquele não ocorrerá tão cedo) é dever dos monarcas, embora reinem autocraticamente, governar, no entanto, de modo republicano (não democrático), i.e., tratar o povo segundo princípios conformes ao espírito das leis de liberdade (como um povo de matura razão a si mesmo as prescreveria), se bem que quanto à letra não seja consultado acerca da sua acquiescência.”(Ak. VII, 90-91) , não cabe a tarefa de moralizar, mas de zelar e garantir aos seus cidadãos as condições mais elementares para que possam perseguir livremente seus objetivos e desenvolver seus projetos de vida boa. Que condições são estas? A segurança proporcionada pela lei.
Esta questão está diretamente conectada com a “sociabilidade-insociável”, que já foi mencionada antes. Ela é apresentada por Kant na sexta proposição de Ideia de uma história universal com um propósito cosmopolita (1784). O homem é “um animal que, quando vive entre os seus semelhantes precisa de um senhor”, isto é, precisa ser governado. Este senhor deve “quebrar a sua própria vontade” e “forçá-lo a obedecer uma vontade universalmente válida” (Ak., VIII 23). Aqui a coerção exercida pelo direito, por meio do governo e das leis, não visa outra coisa que favorecer a coexistência das liberdades. Assegurar uma situação de paz no interior da sociedade também faz parte de suas atribuições. Ao Estado cabe, portanto, a tarefa de “preparar as condições externas, sob as quais os próprios indivíduos podem cuidar da própria moralização”(PINZANI, 2009PINZANI, Alessandro. An den Wurzeln moderner Demokratie. Bürger und Staat in der Neuzeit. Berlin: Akademie Verlag, 2009., p. 261).
A educação moral como processo de esclarecimento exige, portanto, a liberdade de opinião e o espaço público como condições de sua efetivação. No Conflito das Faculdades Kant lembra que a “ilustração do povo é a sua instrução pública acerca dos seus deveres e direitos no tocante ao Estado a que pertence” e, portanto, a “interdição da publicidade impede o progresso de um povo para o melhor” (Ak. VII, 89). Por outro lado os indivíduos deixados entregues a si mesmos e aos seus esforços isolados não estão em condições de promover este progresso moral.
Esperar que, por meio da formação da juventude na instrução doméstica e, em seguida, nas escolas, desde as mais baixas às superiores, numa cultura intelectual e moral, reforçada pelo ensino religioso, se chegue por último não só a educar bons cidadãos, mas a educar para o bem o que ainda pode progredir e conservar-se, é um plano que dificilmente permite esperar o êxito desejado (Ak. VII, 92).
Nesta passagem, apesar de todo seu entusiasmo iluminista e de acreditar fundamentalmente no progresso da humanidade para o melhor, Kant advoga por uma modéstia ou moderação nas expectativas que podem ser nutridas com relação aos resultados da educação. O progresso moral, isto é, em direção ao bem é uma tarefa infinita e, por isso, é difícil que se chegue a um resultado. Aqui vale lembrar uma observação do jovem Fichte que, inspirado em Kant, afirmava nas Lições sobre a vocação do sábio (1794), que “a perfeição é o fim último e inacessível do homem; mas o aperfeiçoamento até ao infinito é a sua destinação”(1999, p. 28).
No contexto da filosofia prática kantiana, a educação pública não é somente uma das formas de promover o aperfeiçoamento moral, mas também um modo de conferir aos cidadãos oportunidades iguais no acesso aos bens culturais e, por isso mesmo, um fator que contribui para a diminuição da desigualdade social. Em outros termos, a igualdade que é um direito imediatamente decorrente do direito inato à liberdade, deve ser assegurada ativamente pelo Estado.
Portanto, além de uma constituição civil que garanta esses direitos, espera-se que o Estado possa também investir na qualificação e melhoria das instituições públicas de forma permanente. Isso significa que o Estado também precisa se aperfeiçoar e, portanto, progredir na direção de uma condição melhor da que ele atualmente se encontra. Neste caso, enquanto os assuntos prioritários do Estado permanecerem ligados à meras ambições políticas de conquistas territoriais, vantagens econômicas ou na supremacia do poder militar, por exemplo, ignora-se deliberadamente assuntos como o investimento substantivo na educação, no desenvolvimento social, científico e cultural de uma sociedade.
Dito de outro modo, aqui Kant chama a atenção no papel que o Estado tem como aquela instância responsável, não apenas pelo provimento dos direitos humanos fundamentais, dentre os quais se encontra a educação do seus cidadãos, mas por conceber e empenhar todos os esforços em um projeto de civilização e de moralização (lembrando aqui o sentido deste processo em Kant, enquanto crítica de todas as formas de dogmatismos) voltado para o futuro.
Com efeito, o povo julga que os custos da educação da sua juventude não devem ser suportados por ele, mas pelo Estado e, em contrapartida, o Estado não tem, por sua parte, dinheiro a mais para pagar a mestres capazes e cumprindo com prazer as suas funções (como se queixa Büsching), porque precisa dele todo para a guerra; e o mecanismo inteiro desta educação não tem nexo algum, se não for projetado e posto em ação segundo um plano refletido do poder político soberano, de acordo com esse seu propósito, e se não se mantiver sempre também em conformidade com ele; para tal seria, decerto, necessário que o Estado, de tempos a tempos, se reformasse a si mesmo e, tentando a evolução em vez da revolução, avançasse de modo permanente para o melhor (Ak. VII, 92-93).
Para concluir
O objetivo proposto no início deste trabalho era demonstrar que a ideia de educação moral é uma parte importante da ética kantiana e se constitui em uma das formas de aplicá-la, permitindo, portanto, que se pense por meio dela, uma das formas de realização daquilo que é indiscutivelmente o pilar central de toda ética kantiana: a autonomia ou, se assim se preferir, a autodeterminação moral do ser humano. A dificuldade mais óbvia e imediata para tratarmos deste tema em Kant é que precisamos elaborar a reflexão e “desenhar” esta imagem a partir dos fragmentos de que dispomos e que estão espalhados ao longo dos seus escritos.
Levando isso em consideração, procurei demonstrar que a necessidade da educação moral tem uma primeira justificativa assegurada pela própria Doutrina do Direito. Nesse contexto, ela é um direito humano fundamental que decorre do fato de que o ser gerado pelos pais é, antes de mais nada, uma pessoa. Deste direito inato promana o dever dos pais de protegê-lo, cuidá-lo e educá-lo, até o ponto em que ele se torne emancipado e capaz de cuidar de si.
Ao lado deste aspecto, que é parte importante, mas não esgota por si, as tarefas que cabem à educação moral, argumentei também que uma dimensão importante está pressuposta na concepção kantiana, a saber, que a educação moral implica no desenvolvimento cognitivo progressivo, sobretudo, da capacidade de julgar da criança, tendo como o horizonte último o desenvolvimento da capacidade de pensar, avaliar, deliberar e agir de forma plenamente autônoma. Este processo implica que a educação moral, transcende a esfera familiar e chega na esfera pública, no centro da sociedade civil.
A educação acontece, neste sentido, por meio de processos e instituições públicas e que, portanto, também exigem a participação efetiva do Estado como a instância promotora e favorecedora do progresso moral humano. Conforme eu enfatizei, não se trata de o Estado ditar ou prescrever como os seus cidadãos devem viver, isto é, não cabe ao Estado moralizar ou doutrinar seus cidadãos, mas ele é responsável por cuidar das condições que irão favorecer e facilitar que cada indivíduo tenha oportunidades iguais de buscar e realizar seus projetos de vida.
O progresso para o melhor não é uma tarefa apenas dos indivíduos, mas da inteira espécie humana e também do próprio Estado, que deve colocar no centro de suas preocupações e investimentos esta tarefa. Por fim, este processo, devido à inconstância humana, à sociabilidade-insociável e aos conflitos, tem de sempre recomeçar e, ao mesmo tempo, não tem um ponto de chegada. Estamos destinados a buscá-lo numa aproximação infinita.
Referências Bibliográficas
- BITTNER, Rüdiger; CRAMER, Konrad (Hrsg.). Materialien zu Kants “Kritik der praktischen Vernunft”. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1975.
- BRANDT, Reinhard. Die Bestimmung des Menschen bei Kant. Hamburg, 2007.
- ESSER, Andrea M. Eine Ethik für Endliche: Kants Tugendlehre in der Gegenwart. Stuttgart - Bad Cannstatt, 2004.
- FICHTE, Johann Gottlieb. Lições sobre a vocação do sábio, seguido de reinvindicação da liberdade de pensamento. Trad. e apres. de Artur Morão. Lisboa: Edições 70, 1999.
- HERMAN, Barbara. Moral Literacy. Cambridge/London: Harvard University Press, 2008.
- HÖFFE, Otfried. Lebenskunst und Moral: Oder macht Tugend glücklich? München, 2007.
- HÖFFE, Otfried. (Hrsg.) Immanuel Kant Kritik der Praktischen Vernunft. Reihe Klassiker Auslegen. Berlin, 2002.
- HUTTER, Axel; KERTHEININGER, Markus. Bildung als Mittel und Selbstzweck. Korrektive Erinnerung wider die Verengung des Bildungsbegriffs. Freiburg/München: Karl Alber Verlag, 2009.
- KANT, Immanuel. Antropologia de um ponto de vista pragmático. Trad. Clélia A. Martins. São Paulo: Iluminuras, 2006.
- KANT, Immanuel. À paz perpétua e outros opúsculos. Trad. Artur Morão. Lisboa: Edições 70, 1995.
- KANT, Immanuel. A Religião nos limites da simples razão. Trad. Artur Morão. Lisboa: Edições 70, 1992.
- KANT, Immanuel. Crítica da razão prática. Trad. introd. e notas de Valério Rohden. São Paulo: Editora WMF Martins Fontes, 2011.
- KANT, Immanuel. Lógica. Trad. Guido A. de Almeida. 3. ed. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 2011.
- KANT, Immanuel. Kants gesammelte Schriften. Hrsg. von der Königlich Preußischen bzw. von der Deutschen Akademie der Wissenschaften, Berlin, 1902. [Berlin: Walter De Gruyter, 1968.]
- KANT, Immanuel. O Conflito das Faculdades. Trad. Artur Morão. Lisboa: Edições 70, 1993.
- KANT, Immanuel. Werke in sechs Bänden. Hrsg. von Wilhelm Weischedel. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1998.
- KANT, Immanuel. Vorlesung zur Moralphilosophie. Hrsg. von Werner Stark. Berlin - New York: De Gruyter, 2004.
- MUNZEL, Gisela Felicitas. Doctrin of Method and Closing. In: HÖFFE, Otfried. (Hrsg.) Immanuel Kant Kritik der Praktischen Vernunft. Berlin: Reihe Klassiker Auslegen, 2002. p. 151-163.
- PINZANI, Alessandro. An den Wurzeln moderner Demokratie. Bürger und Staat in der Neuzeit. Berlin: Akademie Verlag, 2009.
- SANTOS, Robinson. Moralität und Erziehung bei Immanuel Kant. Kassel: Kassel University Press, 2007.
- SANTOS, Robinson dos; CHAGAS, Flávia C.(Orgs.) Moral e Antropologia em Kant. Passo Fundo; Pelotas: IFIBE e EDUFPEL, 2012.
- SCHÖNECKER, Dieter; WOOD, Allen. Kants Grundlegung zur Metaphysik der Sitten. Ein einführender Kommentar. Paderborn - München - Wien - Zurich: UTB; Schöningh, 2002.
- SCHÖNECKER, Dieter; WOOD, Allen. A “Fundamentação da Metafísica dos Costumes de Kant: Um comentário introdutório”. Trad. Robinson dos Santos e Gerson Neumann. São Paulo: Edições Loyola, 2014.
- SEDGWICK, Sally. A Fundamentação da Metafísica dos Costumes de Kant: uma chave de leitura. Trad. Diego K. Trevisan. Petrópolis: Editora Vozes, 2017.
- STARK, Werner. Vorlesung - Nachlass - Druckschrift? Bemerkungen zu Kant über Pädagogik. In: Kant-Studien 91. Jahrgang, Sonderheft. Berlin - New York: Walter de Gruyter, 2000, S. 94-105.
- VANDEWALLE, Bernard. Kant, éducation et critique. Paris: L’Harmattan, 2001.
- WEISSKOPF, Traugott. Immanuel Kant und die Pädagogik. Beiträge zu einer Monographie. Basel: Editio Academica, 1970.
- WILLASCHEK, Marcus; STOLZENBERG, Jürgen; MOHR, Georg; BACIN, Stefano (Hrsg.). Kant-Lexikon. 3 Bde. Berlin: De Gruyter, 2015.
-
1
Na Lógica, Kant distingue um sentido escolástico que, nos termos atuais equivaleria ao acadêmico, de Filosofia, designando-a como “sistema dos conhecimentos racionais a partir de conceitos”, ao passo que em um sentido mundano, para o qual ele também usa a expressão latina in sensu cosmico, referindo-se a ele posteriormente também como sentido cosmopolita, a Filosofia é “a ciência da relação de todo o conhecimento e de todo uso da razão com o fim último da razão humana” ou, ainda, “é a ideia de uma sabedoria perfeita que nos mostra os fins últimos da razão humana”, isto é, em um sentido muito mais amplo do que o acadêmico (Ak. IX, 24-25).
-
2
Cf. Aufsätze, das Philantropin betreffend, Ak. II, 445.
-
3
Escrevi especificamente sobre este tema no livro Moralität und Erziehung bei Immanuel Kant (2007), livro que resultou da minha tese de doutorado e no texto O problema da autenticidade das preleções de Pedagogia de Kant. In: Luiz Carlos Bombassaro; Claudio A. Dalbosco; Nadja Hermann. (Org.). Percursos Hermenêuticos e Políticos: Homenagem a Hans-Georg Flickinger. 1ed.PassoFundo PortoAlegre Caxias: UPF; EDIPUCRS; UCS, 2014, v. 1, p. 190-207.
-
4
Talvez o lugar onde mais apareça de forma nítida a influência desta leitura de Rousseau seja a primeira parte das lições de Pedagogia, isto é, naqueles aspectos relacionados à educação física ou natural, em que ele discorre sobre os primeiros cuidados com a criança, como alimentação, higiene e formação de hábitos, entre outros assuntos.
-
5
“If autonomy is the capacity to judge and be motivated by the principles of a constructed deliberative field, its empirical realization is a function of moral education: the social and institutional provision of well-formed values and evaluative skills. Effectively autonomous agents will be morally literate; they have a developed moral intelligence that can read and respond to moral facts, incorporating their evaluative import into a shared way of life.”
-
6
No Conflito das Faculdades Kant argumenta que: “A ideia de uma constituição em consonância com o direito natural dos homens, a saber, que os que obedecem à lei devem ao mesmo tempo, na sua união, ser legisladores, está subjacente a todas as formas políticas, e o Estado que, concebido em conformidade com ele, graças a puros conceitos racionais, se chama um ideal platônico (respublica noumenon), não é uma quimera vazia, mas a norma eterna para toda a constituição civil em geral, e afasta toda a guerra. Uma sociedade civil organizada conforme a ela, é a apresentação da mesma segundo leis de liberdade, por meio de um exemplo na experiência (respublica phaenomenon) e só pode ser obtida com muito esforço após múltiplas hostilidades e guerras; mas a sua constituição, uma vez adquirida em grande escala, qualifica-se como a melhor entre todas para manter afastada a guerra, a destruidora de todo o bem; por conseguinte, é dever ingressar nela; mas provisoriamente (porque aquele não ocorrerá tão cedo) é dever dos monarcas, embora reinem autocraticamente, governar, no entanto, de modo republicano (não democrático), i.e., tratar o povo segundo princípios conformes ao espírito das leis de liberdade (como um povo de matura razão a si mesmo as prescreveria), se bem que quanto à letra não seja consultado acerca da sua acquiescência.”(Ak. VII, 90-91)
Datas de Publicação
-
Publicação nesta coleção
10 Jun 2024 -
Data do Fascículo
2024
Histórico
-
Recebido
14 Nov 2023 -
Aceito
20 Fev 2024