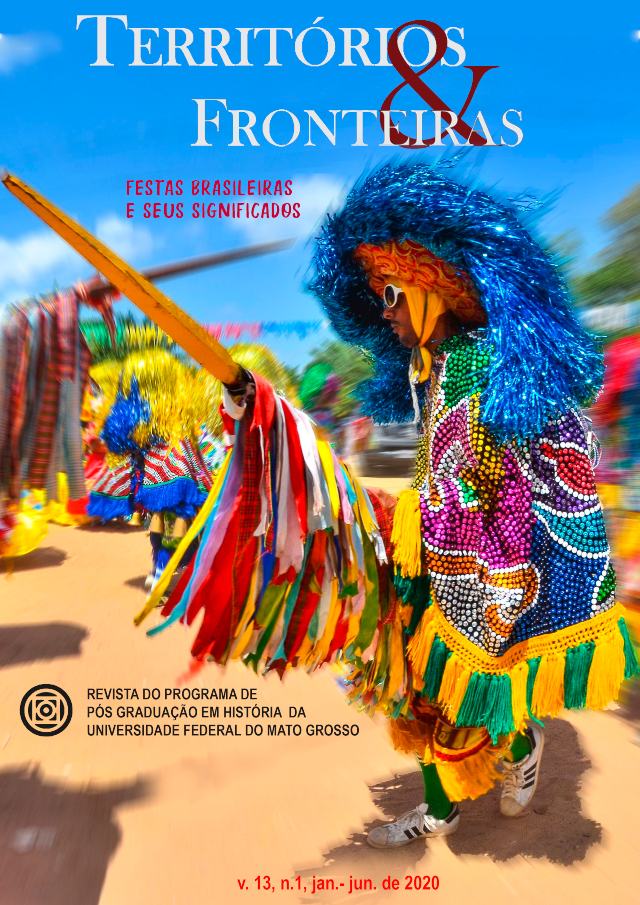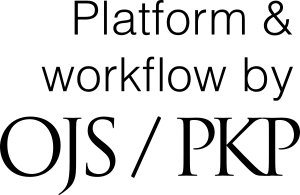O Regime de Historicidade Distópico: tempo e natureza em Não Verás País Nenhum de Ignácio de Loyola Brandão
DOI:
https://doi.org/10.22228/rtf.v13i1.1066Resumo
O romance distópico Não Verás País Nenhum de Ignácio de Loyola Brandão representa de uma nova forma tempo e natureza no contexto da crise ambiental do final do século XX. Com base no Materialismo Histórico, a distopia é vinculada ao seu contexto de criação e representa de forma pessimista os medos e inseguranças de um determinado momento histórico. Assim, diante da atual crise ambiental e da percepção da finitude dos recursos naturais uma forma regressiva de compreender a passagem do tempo surge no final do século XX, o regime de historicidade distópico ambiental.Referências
AUERBACH, Erich. Mimesis: a representação da realidade na literatura ocidental. São. Paulo: Perspectiva, 2002.
BECK, Ulrich. Sociedade de risco: rumo a uma outra modernidade. São Paulo: 34, 2010.
BITTENCOURT, Renato Nunes. As utopias negativas e a normatividade da disciplina social. In: Revista de Ciência Política Achegas. n. 43, jan./dez. 2010.
BRADBURY, Ray. Fahrenheit 451. São Paulo: Publifolha, 2016.
BRANDÃO, Ignácio de Loyola. Não Verás País Nenhum. São Paulo: Editora Global, 2012.
BURGESS, Anthony. Laranja Mecânica – Ed. comemorativa 50 anos. São Paulo: Aleph, 2012.
CANDIDO, Antonio. Literatura e sociedade: estudos de teoria e história literária. São Paulo: Ouro sobre azul, 2010.
CHAUÍ, Marilena. Simulacro e Poder. Uma análise da Mídia. São Paulo: Fundação Perseu Abramo, 2006.
CRONON, Willian. Un lugar para relatos: naturaleza, historia y narrativa. In: PALACIO, G; ULLOA, A. Repensando la naturaleza: Encuentros y desencuentros disciplinarios en torno a lo ambiental. Bogotá, Colombia: Universidad Nacional de Colombia-Sede Leticia; Instituto Amazónico de Investigaciones Imani; Instituto Colombiano de Antropología e Historia; Colciencias, 2002, p. 29-65.
CRUTZEN, Paul .J.; STEFFEN, Will. How long have we been in the Anthropocene era? Climatic Change, n. 61, p. 251–257, 2003.
DYSTOPIA. In: Oxford English Dictionary. 3. Ed. Oxford University Press, 2005. ROTH, Michael S., A Dystopia of the Spirit. In: RÜSEN, Jörn; FEHR, Michael; RIEGER, Thomas Rieger (Eds.). Thinking Utopia, Steps Into Other Worlds. Berghan Books, 2009, p. 230.
FOGG, Walter L. Technology and dystopia. In: RICHTER, Peyton E. (Ed.), Utopia/dystopia? Cambridge: Schenkman, 1975, p. 68.
HARRISON, Harry. Make Room! Make Room! Austrália: Berkley, 1966.
HARTOG, François. Regimes de historicidade: presentismo e experiência do tempo. Belo Horizonte: Autentica, 2015.
HERBERT, Frank. Duna. São Paulo: Nova Fronteira, 2012.
HOBSBAWM, Eric. A Era da Catástrofe. In: Era dos Extremos – O breve século XX. São Paulo: Companhia das Letras, 1995.
KOPP, Rudnei. Comunicação e mídia na literatura distópica de meados do século 20: Zamiatin, Huxley, Orwell, Vonnegut e Bradbury. PUC-URGS, 2011. (Tese de doutorado - Comunicação social.).
KOSELLECK, Reinhardt. Futuro passado: contribuição à semântica dos tempos históricos. Rio de Janeiro: Contraponto: PUC-Rio, 2006.
KUMAR, Krishan. Utopia and anti-utopia in modern times. Oxford: Basil Blackwell, 1987. p. 224, apud KOPP, Rudnei. Comunicação e mídia na literatura distópica de meados do século 20: Zamiatin, Huxley, Orwell, Vonnegut e Bradbury. PUC-URGS, 2011 (Tese de doutorado - Comunicação social.), p. 12.
LATOUR, Bruno. Jamais fomos modernos: ensaio de antropologia simétrica. Rio de Janeiro: Ed. 34, 2013.
LE GOFF, Jacques. História e Memória. Campinas, SP: Ed. UNICAMP, 1990.
LESSA, Sergio; TONET, Ivo. Introdução a Filosofia de Marx. São Paulo: Expressão Popular, 2011.
LOCKE, John. O Segundo Tratado sobre o Governo Civil. Rio de Janeiro: Ed. Vozes, 2002.
MARX, Karl; ENGELS, Friedrich. A Ideologia Alemã. São Paulo: Martins Fontes, 1998.
ORWELL, George. 1984. São Paulo: Cia das Letras, 2009.
ORWELL, George. The Collected Essays, Journalism and Letters of George Orwell, v. 4, In Front of Your Nose 1945-1950. Nova Iorque: Penguin Books. p. 546.
PIRES JÚNIOR, P. A.; TORELLY, M. D. As razões da eficácia da lei de anistia no Brasil e as alternativas para a verdade e justiça em relação as graves violações de direitos humanos ocorridas durante a ditadura militar (1964-1985). In: Revista do Instituto de Hermenêutica Jurídica, v. 8, n. 8, p. 183-219, 2010.
SAFATLE, Vladimir. À sombra da ditadura. In: Revista Carta Capital. Edição especial. Ano XVII, n. 678. São Paulo: Confiança, 2011.
SILVA FILHO, José Carlos Moreira. Entre a anistia e o perdão: memória e esquecimento na transição política brasileira- qual reconciliação? In: ASSY, Bethania et al. (coord.). Direitos Humanos: justiça, verdade e memória. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2012.
VONNEGUT, Kurth. Player Piano. São Paulo: Laurel, 1988.
WILLIAMS, Raymond. “George Orwell”. In: Cultura e sociedade (1780-1950). São Paulo: Companhia Editora Nacional, 1969. p. 295-304.
WILLIAMS, Raymond. “Orwell”. In: A política e as letras. São Paulo: Unesp, 2013. p. 393-401.
WILLIANS, Raymond. Marxismo e Literatura. Rio de Janeiro: Zahar, 1979.